O nosso último encontro foi debaixo da árvore onde o Camus se lixou com f grande. Estranho encontro dado que nos encontrávamos a caminho de Atenas, atravessando o Peloponeso* em direcção ao Istmo de Corinto e à região da Ática. Deve ser isto a tal coisa do absurdo**. A viagem foi feita de noite, mas o habitual rebuliço dos gregos – uns estão sempre a falar, outros nunca se calam, uns e outros ignoram o significado de “conversar baixinho” – só me deixou dormir em prestações de 10 minutos. Já não podia ver ninguém à frente quando, com o sol no horizonte, o comboio começou a travar e se deu um aumento do rebuliço (um aumento pequeno, visto que não era possível aumentar muito). Ao ver mais de metade dos passageiros a preparar a saída, olhei pela janela para tentar descobrir onde estava. Como dei de caras com um apeadeiro velho e ranhoso voltei a encostar a cabeça ao banco, satisfeito por poder prosseguir a viagem num ambiente mais sossegado. Na parede dessa estaçãozeca estava uma placa feia e ferrugenta (fazia um pendant perfeito com o edifício) que exibia, se a memória não me falha, o seguinte escrito:
Acreditam os meus caros amigos que esta merda quer dizer Atenas? Pois é, nem eu. Mas a verdade é que quer. Verdade essa que só descobri depois do sacana do comboio ter voltado a arrancar, na direcção do caralho mais velho, onde finalmente saí, desorientadinho e ligeiramente pior que estragado. Mas como é que uma cidade de não sei quantos milhões de habitantes e que era a capital de um país da União Europeia tinha uma estação de comboios igual à de Vila Meã mas em feio?! E aquilo – e a palavra “aquilo” nunca foi tão adequadamente utilizada por ninguém – era a estação principal de Atenas; provavelmente até, a estação principal de toda a Grécia! O cheiro indisfarçável da utilização massiva de fundos estruturais europeus em putas e vinho verde atingiu as minhas narinas com prontidão. Mas era preciso avançar, a civilização grega chamava por mim. Apanhei uma outra locomotiva em sentido inverso, sonhando já com os locais calcorreados milhares de anos atrás pelos famosos vultos políticos da Antiguidade Clássica, fossem eles os grandes estadistas como Péricles, fossem eles os que prometiam baixar os impostos ao povo e, simultaneamente, construir mais uns quantos templos para que o povo adorasse os Deuses. Falo dos célebres demagogos gregos, que cultivavam a arte de conduzir as massas através de um discurso emotivo e sem preocupações com a verdade e com a racionalidade. Felizmente, esse nefasto comportamento não chegou aos nossos dias e hoje, quando vemos os políticos a prometer que vão acabar com a austeridade e baixar o défice, diminuir os impostos e aumentar os apoios sociais, não despedir funcionários nem cortar os subsídios, investir na escola pública e apoiar as fundações privadas, proteger o ambiente e baixar o preço dos combustíveis, alargar o investimento público e acabar com a promiscuidade entre o Estado e os grandes grupos económicos, garantir os direitos adquiridos dos mais velhos e criar emprego para os mais novos, estimular o uso dos transportes públicos e reduzir o imposto automóvel, aumentar o salário mínimo e diminuir a taxa de desemprego, proibir os despedimentos e acabar com a emigração da geração mais qualificada de sempre, atrair investimento estrangeiro e taxar corajosamente o capital, promover o consumo interno e fomentar as exportações, eliminar as mordomias dos políticos sem prejudicar os mordomos, podemos confiar que eles acreditam convictamente nas tretas que lhes saem da boca.
Quando lhe perguntavam de onde era, Sócrates respondia que era um cidadão, não de Atenas ou da Grécia, mas do mundo. Ainda não tinham passado 10 minutos desde a saída da Estação (ehehehe) Central (ahahaha) de AθHNAI (ihihihi), e já compreendia perfeitamente os motivos do “cicutas”: tivesse eu nascido naquela cidade e também faria todos os possíveis para que ninguém soubesse disso. O ambiente era mais ou menos caótico: uma mistura de calor, barulho, fumo de carros e fumo de cigarros (numa competição taco a taco; não sei quem estava a ganhar), edifícios feios, congestionamentos, e, pior do que tudo, gregos, muitos gregos por todo o lado! E uma grande parte deles atrás do volante, situação verdadeiramente explosiva. Tentei dirigir-me à Praça Omonia, a referência central que trazia na cabeça, mas vi-me, lá está, grego. Não percebia um caralho do que diziam as placas e os gajos com quem me cruzava não percebiam um caralho de inglês. Devo ter andado meia dúzia de quilómetros para fazer um percurso que não devia ter mais do que um ou dois. Quando finalmente chego ao local pretendido e me enfio num café cheio de fumo para tentar comer qualquer coisa, encontro um casal de interrailers (acho que já não escrevia isto há muito tempo) que me provocaram uma alegria de nómada perdido no deserto quando encontra um oásis. Colo-me a eles, sedento de dicas de sobrevivência para conhecer aquela terra, e recebo imediatamente um conselho encantador: “vai visitar o bairro de Plaka e a Acrópole e depois põe-te a andar o mais depressa possível”. “Mas não querem discutir isso com mais pormenor?”, perguntei eu com cara de surpreendido, “afinal estamos na pátria da filosofia e podíamos desenvolver as artes da retórica e da lógica, aprofundando o tema dos méritos e deméritos desta capital”. “Caga na filosofia e não percas tempo aqui”, responderam-me eles sem qualquer interesse em alcançar a verdade através do método dialético***.
A fama de Atenas como uma cidade, digamos, de merda, não sendo totalmente imerecida, acaba também por não ser totalmente justa. Paul Theroux, lenda viva destas andanças, refere no seu Pillars of Hercules que um viajante lhe descreveu Atenas como “uma cidade de quatro-horas”, o tempo que considerava necessário para ver tudo o que merece ser visto. Mesmo validando estas opiniões (a transmitida pelo Theroux e a dos meus coleguinhas de inter-rail), reduzindo os pontos de interesse à Acrópole e seus arredores, não consigo dar como perdido o tempo que lá passei. A Acrópole é sempre a Acrópole! Mas claro, isto de nos dirigirmos a uma terra longínqua para ver um local específico não é uma actividade consensual. Nem todas as pessoas, mesmo as que se encontram no grupo das curiosas, subscrevem as mesmas análises, cof cof, custo-benefício. O pensamento do Dr. Samuel Johnson, vertido brilhantemente no diálogo que se segue, coloca a questão na perspectiva certa:
Boswell - vale a pena ver a Calçada dos Gigantes?
Johnson - valer a pena ver? Sim, mas não vale a pena ir ver.
Como não tive de ir ver a Acrópole (apenas me aconteceu ter visto a Acrópole enquanto me dirigia para Istambul), acabei por respeitar os ideais do Doctor. E confirmo que valeu a pena.
(continua)
* devo ter passado perto da antiga cidade de Clitor, onde, segundo Vitrúvio, corriam umas águas que curavam o alcoolismo. Note-se que esta informação é prestada no seu Tratado de Arquitectura. Seria bom, a julgar por certas construções que se vão vendo por aí, retomar esses estudos, nomeadamente investigando as possíveis ligações entre alguns projectos e o abuso do álcool em contexto laboral.
** agora (ainda) mais a sério: num livrinho do António Mega Ferreira (por mim merece ser promovido a Giga Ferreira, tal o prazer que retiro da sua escrita), explica-se que o absurdo “é a divergência entre o que um homem pede ao mundo – um sentido para a vida – e o que o mundo lhe pode dar – uma vida sem sentido”. Eu não mexia mais.
*** já que falamos de filosofia, deixo aqui a minha, muito mais inspirada em episódios bíblicos do que em episódios de cidadãos da Grécia Antiga. Trata-se de uma filosofia de vida a que dou o nome de “não-não” e pode ser assim resumida: não atirar a primeira pedra; não oferecer a outra face.
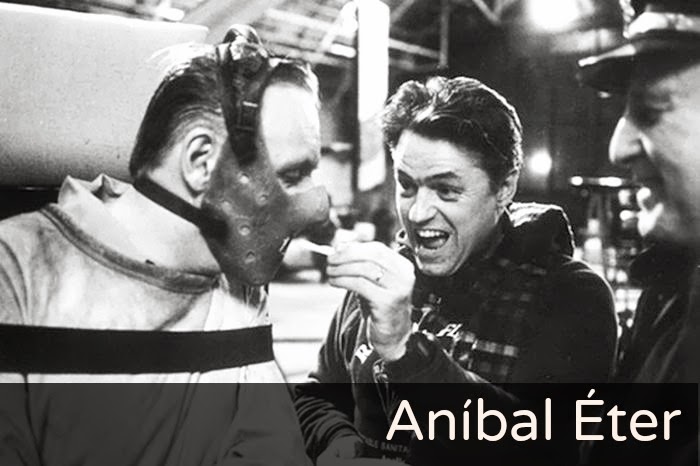
Sem comentários:
Enviar um comentário